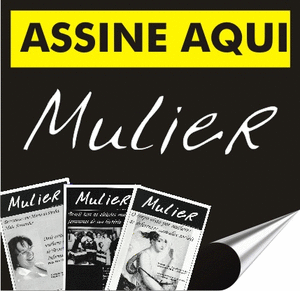Foto: Vânia Laranjeira – Reprodução
Jornal Mulier – Maio de 2008, Nº 52
Para Ana Arruda Callado, 40 anos após 1968, falta lembrar o empenho que se tinha em estudar política, o coletivismo levado a sério e o patriotismo sem ufanismo, realista, combativo e generoso
Ana Arruda Callado é jornalista, doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre os jornais que trabalhou estão “Jornal do Brasil”, “Tribuna da Imprensa”, “Diário Carioca” e “O Sol”, publicação pioneira na imprensa alternativa brasileira. Atualmente dedica-se mais à Literatura, especialmente escrevendo livros biográficos, como “Maria Martins, uma biografia” e “Adalgisa Nery”.
Mulier – Você é considerada a primeira mulher chefe de reportagem do Brasil. Como é a sua experiência como jornalista?
Ana Arruda – Desde adolescente eu queria ser jornalista. E até hoje não sei como esta ideia nasceu, pois ninguém na minha família era jornalista, e eu não conhecia jornalistas. O fato é que, com uns 13 anos, fiz um jornalzinho escrito à mão, com dois dos meus irmãos (sou a 12ª de uma família de 15 irmãos, mesmo pai, mesma mãe), a que demos o nome de “Repórter 1907”, que era o número do nosso apartamento. Tinha notícias da família, comentários de futebol e uma historinha em quadrinhos que meu irmão José desenhava. Quando estava no colégio, colaborava com o jornal “A Forja”, do Grêmio. E pela mesma época entrei para um jornal da Ação Católica Estudantil, o “Roteiro da Juventude”, dirigido pelo Cícero Sandroni, hoje presidente da Academia Brasileira de Letras.
Quando acabei o curso Científico – era o ensino médio de então – ou você fazia Clássico, porque queria uma carreira de humanidades, letras, ou o Científico. Decidi cursar Jornalismo, para desgosto de duas pessoas. Meu pai, engenheiro, de quem eu me lembro sempre lendo, e que às vezes lia para mim trechos de Bertrand Russell e de Anatole France, balançou a cabeça pesaroso e me disse: “Jornalismo, filhinha? Jornalista é quem não dá para mais nada…”. A reação de minha professora de matemática foi mais enfática: “Ana, você não tem o direito de abandonar uma vocação matemática! Se não quiser ser professor, faça engenharia!”.
Fui para a Faculdade Nacional de Filosofia, onde havia há poucos anos o Curso de Jornalismo, e em três anos estava com um diploma de bacharel em Jornalismo na mão. E agora?, pensei. Mas dei sorte. Encontrei Cícero Sandroni na rua e ele me disse: “O ‘Jornal do Brasil’ está fazendo uma reforma interessantíssima. Vai lá e procura o Wilson Figueiredo, chefe de reportagem, com quem eu trabalhei”. Fui, com a cara e a coragem, cara de menina, de “filha de Maria”, como me disse Wilson bem mais tarde, e pedi para trabalhar lá. Depois de me fazer umas perguntas, espantadíssimo por eu ter feito um curso superior de Jornalismo, coisa rara ainda, foi falar com o chefe da redação, que era o Odylo Costa Filho. Vi os dois confabulando, me olhando, ou melhor, me examinando de longe, até que Wilson voltou e disse: “Está bem. Vamos lhe dar uma oportunidade de estágio. Volte na segunda-feira de manhã”. Cheguei em casa eufórica, quando uma das irmãs mudou a euforia em pânico ao lembrar: “Segunda-feira é primeiro de abril”.
Mas eu fui, mesmo temendo a gozação. Felizmente era sério, e eu comecei um estágio maravilhoso. Três meses depois era efetivada; tinha o meu registro de jornalista. Ia para a rua, sugeria matérias e logo conquistei um lugar na redação, pelo entusiasmo e pelo fato de ser alfabetizada, isto é, como um dia o Odylo me disse: “Ana, você sabe usar a vírgula. Você deve ter lido Machado”. De fato, quando cheguei aos 15 anos, tinha lido toda a coleção Jackson das obras completas de Machado de Assis. E isso me ajudou muito.
Fiz muitas matérias de pesquisa, tive muitas chamadas de primeira página logo no segundo ano de trabalho, ganhei prêmios. Estava na glória. Mas também me politizava. E veio a greve de jornalistas de 1962. Conseguimos que os jornais do Rio não saíssem por dois dias – é verdade que a greve era de apoio aos gráficos, e eles é que eram fundamentais para a feitura do jornal. Enfim, quando do movimento acabou, os patrões de reuniram e fizeram uma lista de demissões, além de um pacto para que ninguém contratasse quem tivesse sido demitido de outro jornal. Foi terrível. Eu tinha 25 anos incompletos e estava adorando o trabalho. Como consolo, apenas o fato de ter sido demitida com mais 12 pessoas do JB (ao todo foram mais de 80 demissões), entre elas Ferreira Gullar, Sérgio Cabral e Jaime Negreiros.
Poucas semanas de desemprego, aflição, mas o Hélio Fernandes decidiu não aceitar o pacto patronal e me convidou para fazer Economia na “Tribuna da Imprensa”. De lá fui para o “Diário Carioca”, e não parei mais. Redatora da Internacional do “Correio da Manhã”, editora da Enciclopédia “Delta Universal”, editora da “Revista Estudos Feministas”, editora do Caderno Infantil do “Jornal do Brasil” (para onde voltei nos anos 1970) e por aí vai. E ainda me considero jornalista, porque escrevo biografias que são perfis amplos. A profissão me deu muito prazer e me ensinou muito.
Mulier – Pouco antes de 1968, você foi uma das fundadoras do jornal alternativo “O Sol”. O que “O Sol” representou para a imprensa brasileira e por que acabou?
Ana Arruda – “O Sol” foi uma maravilhosa aventura, uma tentativa de fazer um jornal livre, inovador tecnicamente. Um jornal atrevido. Embora tenha durado poucos meses, foi um sopro renovador na imprensa. A prova disso é que nossa redação recebia as visitas de jornalistas de outras empresas, fascinados com aquela novidade. “O Pasquim”, para mim, foi filho direto de “O Sol”. É claro que, tendo saído depois do AI-5, “O Pasquim” usou o humor para tentar driblar a censura. Mesmo assim foi reprimido, seus redatores presos, aquilo tudo que se sabe. “O Sol” não podia continuar a ser publicado. Levaria o “Jornal dos Sports”, empresa que nos abrigava, à falência. Eles foram valentes, aguentaram bastante, mas a pressão dos militares era imensa. E da própria família Rodrigues, proprietária, contra Dona Célia e o diretor, genro dela, José Guilherme Padilha, que haviam topado a ideia de Reynaldo Jardim, o “pai” de “O Sol”. Na redação só havia gente de esquerda, opositores da ditadura, e mesmo antes do AI-5, que foi promulgado em dezembro de 68, o cerco já vinha se fechando contra todas as formas de resistência. Enfim, era para ser uma linda experiência, e foi. Os repórteres/alunos – “O Sol” era um jornal-escola – até hoje falam do que aprenderam lá e saíram espalhando o espírito de correção, liberdade e amor ao Brasil que ali viveram nos empregos que tiveram depois.
Mulier – Você vivenciou as transformações políticas, sociais e culturais dos anos 60. Como definiria 1968?
Ana Arruda – Um marco. Não é à toa que está sendo tão comemorado. Mas, infelizmente, os aspectos mais superficiais são os mais ressaltados. Fica a impressão de que no Rio daquela época todo mundo ficava fumando maconha nas areias de Ipanema, toda festa era uma orgia, a luta armada era uma “porraloquice”. Falta lembrar o empenho em estudar política, o coletivismo levado a sério, o patriotismo sem ufanismo, realista, combativo, generoso. Acreditávamos em um futuro melhor, para todo mundo. Queríamos o melhor para todo mundo.
Mulier – Estudantes e movimentos de resistência à ditadura foram duramente reprimidos. Você foi uma das vítimas. Pode contar um pouco sobre a experiência?
Ana Arruda – Minha prisão foi tardia (1973) e terrível. Por isso fico profundamente triste ao ver o ex-sindicalista Lula hoje elogiar o general Médici, em cujo governo foram praticadas as maiores atrocidades nos quartéis das três forças armadas. Fiquei 42 dias no DOI-CODI, um dos centros de tortura mais notórios, dirigido pelo coronel Fiúza de Castro. Não vou contar o que passei lá, é horrível e nojento. Só digo que, após aqueles dias, fui conduzida a um quartel da Polícia do Exército, para uma espécie de adaptação ao mundo real, de câmara de descompressão, que durou uma semana. Era prisão, mas eu podia receber visitas e não ficavam me vigiando dia e noite, inclusive me olhando quando ia à privada. E, todo esse tempo, sozinha. Nunca tive uma companheira de cela. Tenho pesadelos até hoje com aquela gente. E o pior é a sensação de que foi um sofrimento inútil, diante do Brasil que vejo hoje. Quero dizer que, apesar de tudo, não pedi indenização. Não julgo os que pediram, cada um sabe de si, mas acharia injusto com o povo pobre do Brasil, por quem eu lutava, ficar recebendo uma gorda aposentadoria.
Mulier – Os ideais da geração de 68 foram alcançados?
Ana Arruda – Só a liberação dos costumes. Claro que toda repressão é nociva, e os jovens hoje podem ser eles mesmos, o que é bom. Mas os ideais de fraternidade evidentemente não foram adotados de todo. O egoísmo impera. O lucro, o consumo, o “vencer na vida” – significando apenas ter bom emprego e carro bacana – venceram. A História age lentamente e a vida é curta. Esta minha sensação de que regredimos em muitos aspectos pode ser devido a isso. Tenho 70 anos e temo pelo mundo que meus netos vão herdar.
Mulier – Em sua opinião, quais as transformações que 1968 trouxe para a vida das mulheres?
Ana Arruda – Imensa. Não só 68, mas toda a década de 1960. A pílula foi a carta de alforria das mulheres. Daí a coragem com que partimos para a mobilização política, ganhamos as ruas, 68 foi o clímax de um processo que não parou ali. É verdade que hoje me preocupa o fato de muitas conquistas terem sido perdidas. Outro dia, falando sobre o movimento feminista, que nos anos 70, apesar da ditadura, teve um grande florescimento no Brasil, as mulheres assumindo muitas posições, perguntava se havíamos ganho alguma coisa, passando de “rainha do lar” a “cachorra”. Porque, o que ficou mesmo foi a liberação sexual, que é ótima, mas com ela veio o recrudescimento da ideia da mulher-objeto. Ainda há muito preconceito, e as próprias mulheres estão hesitando em deixar de ser escravas. Basta ver a dificuldade que os partidos têm para preencher a cota de 30%, o que é mínimo, de candidatas. A plena cidadania está difícil, principalmente quando uma feminista histórica, chegando ao poder, ressuscita a mais nojenta expressão do machismo que é “relaxa e goza!*”. E não adianta argumentar que não foi bem isso que a ministra disse; não há outro contexto possível para esta expressão. Já imaginou se fosse um homem, e da oposição, que dissesse uma coisa dessas? Seria um deus-nos-acuda. Então, a liberdade, a igualdade e a fraternidade estão bem longe.
Mulier – Ainda vê espaço para o idealismo na imprensa brasileira?
Ana Arruda – Claro que existe este espaço. Mas está muito mais difícil para o pessoal hoje. A competição é feroz. Quando eu comecei, os mais velhos tinham prazer em ajudar, em dar dicas; e agora as empresas jornalísticas que sobraram da grande concentração que houve estão mais organizadas, mais fortes, mais voltadas ao lucro – que é o objetivo de qualquer empresa – do que à missão de informar. Quem quiser fazer jornalismo decente, para a sociedade e não para seu chefe, tem que ter muita competência. Aí os espaços se abrem. Mas competência é outra coisa que anda escassa no país.
* Expressão usada pela então ministra do Turismo, Marta Suplicy, em uma entrevista, sobre o problema enfrentado por passageiros nos atrasos de voos nos aeroportos brasileiros na época.
É permitida a reprodução de conteúdo do site para fins não comerciais, desde que citada a fonte: Jornal Mulier – www.jornalmulier.com.br.